


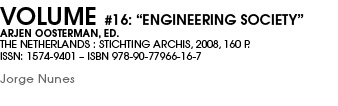
Produzida pela fundação Archis, na Holanda, Volume resulta da reestruturação da revista homónima Archis, fundada em 1986. O formato actual – monografia temática com periodicidade trimestral – iniciou-se em 2005, na sequência de uma parceria entre AMO, o departamento de pesquisa do Office of Metropolitan Architecture, (“braço armado” da “guerrilha ideológica” liderada por Rem Koolhaas), e o C-Lab (Columbia Laboratory for Architectural Broadcasting), uma unidade de investigação instalada na Graduate School of Architecture, Planning and Preservationda Universidade de Columbia, Nova Iorque.
Numa primeira leitura, Volume não se enquadra no perfil das edições de arquitectura. Surge, antes, como uma publicação no âmbito dos estudos sociais e com orientação liberal, sendo necessário esclarecer a duplicidade da sua agenda. Actua em duas frentes: uma “negativa”, cuja genealogia remonta sobretudo ao criticismo pós-moderno desenvolvido durante a década de 1970; e outra “prospectiva”, que procura expandir os territórios tradicionais da arquitectura e do urbanismo (para além do “simples desenhar e construir edifícios”, como afirma Arjen Oosterman no editorial).
Na melhor tradição crítica, não se coíbe de recorrer aos instrumentos analíticos de áreas tão distintas como a sociologia, a antropologia, a economia, a tecnologia, os novos media.
Trata-se de manter viva a capacidade de intervenção cultural e política da arquitectura; uma motivação que leva Volume a assumir-se como um think tank, empenhado em definir a “agenda do pensamento arquitectónico contemporâneo”, e em “constituir um novo mandato para o projecto”.
O número 16, publicado em 2008 e subordinado ao tema “Engineering Society”, constitui uma oportunidade para tentar esclarecer este “regresso à política”. Organizado em quatro secções – “Society”, “City”, “Gaming” e “Dossier” –, incide no debate de temas tão “urgentes” como o aquecimento global, a eficiência energética, as (inevitáveis) cidades “carbono zero”, as novas redes sociais de partilha de informação, a deslocação dos mecanismos de decisão do mundo material para o mundo digital.
O combate ideológico mais cerrado concentra-se na primeira secção. Discutem-se os desafios das sociedades urbanas contemporâneas, nomeadamente o aumento da participação dos cidadãos em decisões que afectam a vida colectiva, e o modo como a nossa sociedade parece “estar aprisionada numa posição em que as escolhas dos utentes e dos votantes determinam o modo como vamos viver no futuro” (p. 1).
Esta discussão assume importância em países como a Holanda, que desenvolveram culturas liberais, fortemente enraizadas nos valores da social-democracia e que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, se deixaram sensibilizar por modelos participativos e soluções inclusivas. Países em que a viragem para o social permitiu à arquitectura, enquanto disciplina, integrar os mecanismos de decisão das acções de planeamento e desenvolvimento, e ao arquitecto, enquanto profissional, assumir um papel de intermediário entre as necessidades do cidadão/utente e os desígnios da vida colectiva promovidos por um estado forte e interventor.
Este incremento de participação não resulta do aumento da consciência política, mas é um efeito colateral das escolhas de consumidores e votantes, determinadas pelas condições de funcionamento do mercado livre: “A partir de um certo nível de prosperidade, assume-se que a procura conduz à oferta.” (p. 2) A discussão centra-se no esgotamento dos instrumentos de “engenharia social”, cujos processos de planeamento a grande escala deixaram de funcionar, permitindo ao mercado encontrar respostas para problemas que eram responsabilidade do estado central. Como é que isso aconteceu? Porque é que o desenvolvimento planeado e “bem intencionado” falhou?
Os posicionamentos dos vários colaboradores alternam entre o alerta para os perigos do populismo de algumas opções políticas recentes e a apologia dos sistemas económicos abertos que permitem sociedades mais livres. A primeira posição surge no texto de abertura, assinado por Oosterman: “O nosso sentido do que é real e do que é importante está à beira do colapso. [...] A cultura transforma-se em pouco mais do que um mercado, a política na sua fachada, e a cidade no seu palco. [...] Surge uma vida urbana colectiva perturbante, encerrada numa gigante casa do Big Brother; um mundo material e social, na qual dominam os meios de comunicação sensacionalistas.” (p. 1)
No outro extremo encontramos Jan Willem Duyvendak que questiona a recuperação das formas de governo baseadas na ideia de estado interventor, sobretudo dos modelos pré-68: “A questão subsequente consiste em saber como se pode envolver o cidadão no processo de regulação social e na provisão dos serviços públicos. A lição das décadas anteriores está aí. Sob as asas do neo-liberalismo surgiu uma nova palavra mágica:demand-driven government.” (p. 24)
Volume cultiva um distanciamento intencional destes dois extremos. Aproxima-se de posições como a de James C. Scott, que, em entrevista a Erik Gerritsen, parece defender o liberalismo e o mercado livre, mas que dispara em todas as direcções, expressando um posicionamento próximo do anarquismo. Entende que o processo de construção dos estados modernos tem como consequência a uniformização das sociedades, o controlo e o domínio, em vez de conduzir ao conhecimento e à liberdade. Scott critica as ideologias herdeiras do século XIX e enraizadas na crença de que uma elite educada no paradigma tecno-científico podia assumir a responsabilidade pelo planeamento e transformação da sociedade. Pelo caminho denuncia o falhanço da estratégia de organismos como a Organização Mundial do Comércio e o Banco Mundial, que procuram implantar as instituições do capitalismo liberal do atlântico norte e das democracias liberais no resto do mundo (p. 12). No fim conclui que a sociedade não pode ser planeada.
O espectro de Koolhaas paira sobre Volume. No fundo, trata-se de manter viva a estratégia da “terceira via” ensaiada com Delirious New York em 1978 e consolidada com S, M, L, XL: levar às últimas consequências o “impulso negativo” do criticismo dos anos de 1970, fechando o ciclo trágico da “morte da arquitectura” anunciada por Manfredo Tafuri, e, em simultâneo, explorar as oportunidades criadas pelas “alucinações paranóicas da loucura capitalista”; procurar nos interstícios conceptuais da dialéctica modernidade/pós-modernidade as estratégias de actuação que permitam superar impasses ideológicos e encontrar novas possibilidades para a arquitectura e a cidade. |